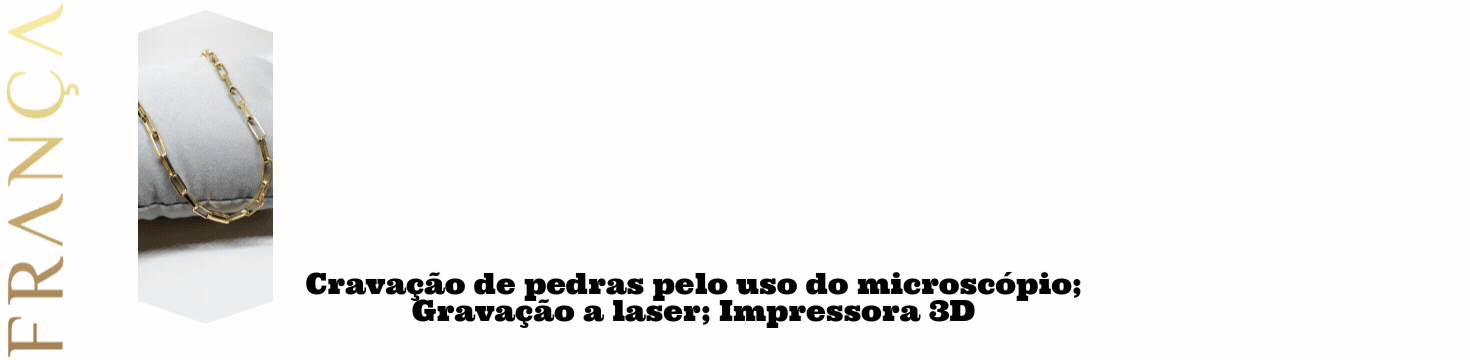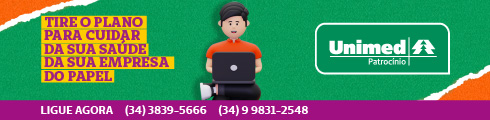Depois que meu filho nasceu, aprendi a ver o mundo com olhos mais humildes — os olhos de quem assiste à força cotidiana do amor de uma mãe.
A princípio, tudo parecia sobre o bebê. As roupinhas pequenas, os choros noturnos, o espanto diante da vida nova que respirava do meu lado. Mas bastou o tempo andar devagar para que eu começasse a enxergar outra coisa: o verdadeiro milagre não estava apenas nos braços do recém-nascido, mas nas mãos de quem o segurava com firmeza mesmo estando exausta.
Foi Débora, meu amor, quem me ensinou isso — não com palavras, mas com gestos. Na primeira febre, no leite retirado com dor, nos olhos que não se fechavam mesmo quando o corpo suplicava descanso. Ali, entendi: ser mãe não é sobre o que se ganha, é sobre o que se entrega. E ninguém fala disso com a poesia que merece.
Ao longo dos meses fui descobrindo que a maternidade não tem o glamour que vendem nas campanhas publicitárias. Ela é feita de abdicações, da paciência que não tem aplauso, da coragem que nem sempre tem plateia. É amor que brota onde não há tempo. É fé que se refaz mesmo sem reconhecimento.
“A maternidade tem um lado escondido, invisível — e é aí que mora sua grandeza”, escreveu Rachel de Queiroz. E eu confirmei isso em cada mulher que vi ser mãe: minha esposa, minha mãe, irmãs, desconhecidas em salas de espera com crianças no colo e um cansaço imenso nos ombros.
Mãe é quem se rasga e ainda assim se costura — com afeto. É quem se pergunta se está fazendo certo, mesmo depois de fazer tudo. É quem carrega culpa por sentir cansaço, e carrega cansaço por não ter tempo de sentir culpa. Mãe é quem multiplica o pouco e esconde o muito, só para ver um filho sorrir.
Hoje, quando vejo Emanuel brincar, penso em como o mundo é generoso com quem nasce — mas deveria ser igualmente generoso com quem dá à luz, com quem cria, com quem sustenta o invisível.
Há um provérbio africano que diz: “É preciso uma aldeia inteira para criar uma criança.” Mas o que não dizem é que, nessa aldeia, quase sempre é uma mulher que acorda primeiro e dorme por último. E mesmo assim, se culpa por não estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
E é aí que nós, pais, precisamos compreender nosso papel — não como coadjuvantes, mas como colunas de apoio. Ser pai é mais do que estar presente nas celebrações; é estar atento nos bastidores. É entender que o cuidado não tem gênero, que o afeto não tem horário, e que amar um filho inclui, necessariamente, amar e cuidar da mãe dele. Ser abrigo para quem abriga. Ser descanso para quem carrega. Ser silêncio para quem precisa respirar.
Celebrar o Dia das Mães é mais do que oferecer flores. É reconhecer que há um heroísmo constante, cotidiano, anônimo, que só pode ser visto com os olhos do coração. “As mães foram feitas para nos ensinar que o amor pode ser trabalho — e que o trabalho pode ser amor”, escreveu Rubem Alves.
Hoje celebro esse amor. E, por meio dele, todas as mulheres que já foram mães, que são, ou que desejam ser. As que tiveram que ser duas. As que criaram sozinhas. As que perderam. As que adotaram. As que acolheram. As que disseram sim ao mundo com o próprio corpo.
Ser mãe é habitar o meio do caos com uma flor nas mãos. E manter viva a esperança de que tudo pode florescer — mesmo em terra seca.