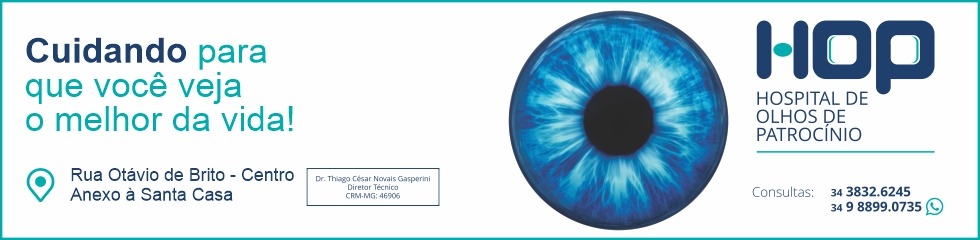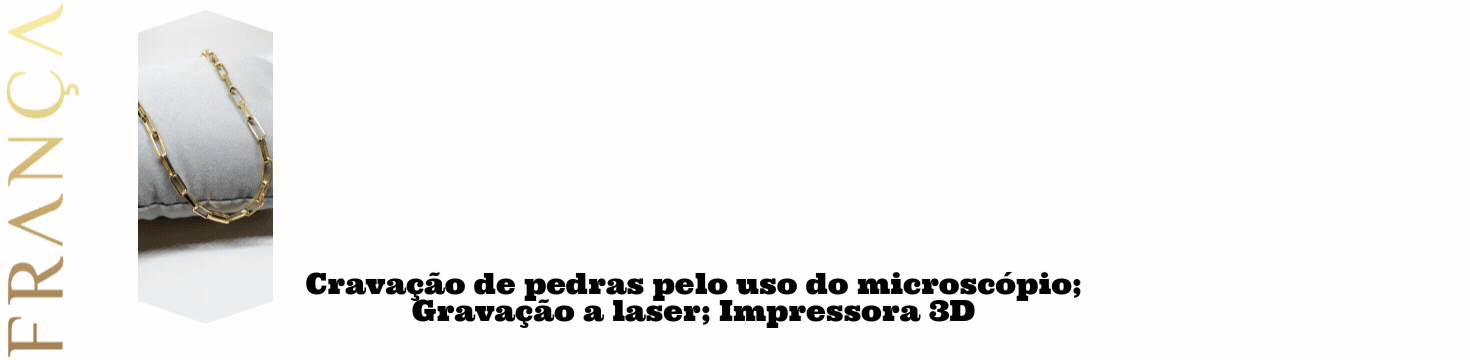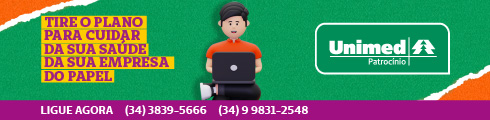Há silêncios
que não nos calam — apenas nos tornam mais atentos.
Não são vazios:
são intervalos entre uma percepção e outra. E é nesses instantes, rarefeitos e
quase imperceptíveis, que o mundo se inclina levemente para nos contar algo.
Mas ele só fala
quando a gente desaprende a pressa.
Foi num desses
instantes que percebi que havia algo errado comigo — ou melhor, ausente.
Não era
tristeza, nem desânimo. Era o oposto: uma sensação boa demais para ser
descrita, mas que eu havia deixado passar muitas vezes por distração.
Tive essa
consciência caminhando com Emanuel, meu filho, numa rua qualquer do bairro. O
sol dobrava a esquina, como se também voltasse pra casa.
E eu, sem
esperar nada, fui surpreendido pelo tudo.
As cigarras
cantavam como se o verão fosse eterno, mas sem alarde — seu canto parecia parte
da paisagem, não um adorno. Algumas pessoas varriam calçadas com a vassoura em
ritmo de fôlego. Outras apenas sentavam-se nas varandas com o corpo entregue e
o olhar sem tarefas. Um carro chegava. Um abraço acontecia. Um cheiro de arroz
escapava de uma panela. O tempo parecia não saber que existiam relógios.
E eu, ali no
meio disso tudo, percebi que não era mais o mesmo.
Não por uma
transformação súbita — mas por estar reaprendendo a me encantar.
“Nada é
pequeno no amor. Quem espera as grandes ocasiões para provar a sua ternura não
sabe amar.” — dizia um tal de La Rochefoucauld, que talvez nunca tenha
andado com um filho pela rua de um bairro mineiro ao fim da tarde, mas sabia
das coisas.
Emanuel, com
sua forma de olhar tudo pela primeira vez, me deu uma aula muda sobre presença.
Ele olhava as folhas caídas como quem lê um livro. Tocava os muros como se
conversasse com eles.
Eu, por dentro,
ia me desarmando.
Comecei a
perceber que a vida não é uma sequência de eventos espetaculares — ela é o
intervalo entre um portão abrindo e um passo distraído.
É o copo de
alumínio no muro, é a sandália esquecida na grama, é a cortina dançando com o
vento.
E, acima de
tudo, é o que não se comenta — porque não se sabe nomear.
O mundo,
naquele momento, não exigia de mim respostas, discursos ou presença de palco.
Ele só queria
que eu me deixasse ver.
Havia um homem
empurrando uma bicicleta. A filha vinha no cano da frente, com os pés no alto e
o riso desorganizado. Nenhum dos dois tinha destino. E pensei que talvez o
sentido da vida seja mesmo perder-se com leveza.
“O essencial
é invisível aos olhos”, disse Antoine de Saint-Exupéry, mas naquele
instante eu pensei diferente: o essencial está visível, escancarado, quase
gritante — só que nós olhamos demais para o centro das coisas. E o essencial
sempre mora nas bordas.
Emanuel me
puxou pela mão. Queria me mostrar um passarinho, ou talvez uma pedra. Não
importava. Ele queria me mostrar algo que havia visto e, ao mesmo tempo, algo
que estava nele. Porque é assim que as crianças compartilham o mundo: não com
explicações, mas com olhos.
Foi então que
me senti grato. Não um agradecimento ensaiado, nem daqueles que se dizem antes
da sobremesa. Era uma gratidão que nem sabia bem para quem endereçar: para
Deus? Para o tempo? Para o chão que me sustentava?
Não sei. Só sei
que era real.
E pensei em
como as pessoas têm pressa de tudo. Pressa de crescer, de amar, de vencer, de
entender. Pressa de sentir sem se comprometer com o que sentem. E, na pressa,
se esquecem de olhar para os detalhes — esses que não fazem barulho, mas
sustentam a arquitetura secreta do mundo.
“O que é
verdadeiro em nós escapa às palavras”, escreveu Clarice Lispector. E talvez
por isso eu tenha sentido tanto, mas dito tão pouco. Porque há emoções que se
escrevem com presença, não com tinta.
E há dias que
não cabem no calendário — só no peito.
Emanuel riu de
algo que só ele viu. E eu sorri junto. Não importava o que era. Era real. Era
agora.
Naquele
instante, entendi que viver não é colecionar acontecimentos — é repousar o
coração nos instantes em que nada nos exige, mas tudo nos oferece.
A rua ia se
apagando devagar. As janelas acendiam seus pequenos sóis domésticos. E cada luz
que se acendia me lembrava de que habitar o mundo não é possuir espaço, mas
permitir-se tocá-lo com lentidão.
Na volta pra
casa, não levei registros. Não fiz fotos.
Guardei tudo
entre vírgulas — essas pausas invisíveis que dão ritmo ao que é eterno.