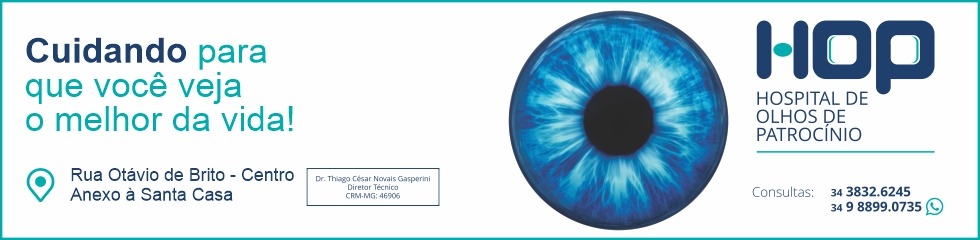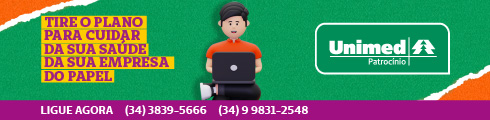Quando o
país acordou naquela manhã o assunto já
estava derramado sobre as telas, como se aquele dia tivesse parido uma tragédia
sem pedir licença. Era impossível escapar: o vídeo, os comentários, os
julgamentos feitos em velocidade de relâmpago. Todos sabiam da história do
menino que entrou na jaula da leoa. Só não sabiam — ou fingiam não saber — que havia
uma outra jaula, muito mais ampla e silenciosa, que ninguém tinha percebido ter
atravessado.
Eu também assisti. Não por curiosidade mórbida, mas por aquele hábito sem nome de tentar entender o que faz um ser humano atravessar limites tão improváveis. Havia um menino. Havia um muro de seis metros. Havia uma leoa que não tinha culpa de nada. E havia milhões de brasileiros olhando, cada um acreditando que olhava para um fato. Mas o que eu vi ali, desde o primeiro instante, não era um fato. Era um espelho.
O país —
esse mosaico de urgências nunca tratadas — parecia comentar não a imagem, mas
um fragmento de si mesmo. E quanto mais eu lia as reações, mais percebia que a
tragédia apontava para uma ferida que não sangra, mas infecciona. Não é a
ferida física. É outra, mais funda: a facilidade com que a gente perdeu a
capacidade de reconhecer o humano no outro.
Porque ali,
naquela cena comprimida em segundos, havia uma história inteira. Uma história
que não começou na jaula. Começou bem antes — quando o Estado falhou em existir
para alguém; quando a saúde mental virou assunto proibido nas mesas modestas;
quando a pobreza foi tratada como destino e não como violência; quando o
abandono se tornou rotina; quando as instituições decidiram que algumas vidas
eram riscos a serem contidos, não pessoas a serem cuidadas.
E o mais
perturbador é que a maioria não viu isso. A maioria viu apenas um “menino
perigoso”, um “problema recorrente”, alguém que “mereceu o que aconteceu”. As
frases vieram como pequenas sentenças, rápidas, afiadas, descartáveis. Gente
adulta comemorando a morte de um jovem como quem comenta resultado de jogo.
Como se a morte tivesse virado argumento. Como se a vida do outro tivesse
perdido o peso que ela deveria sempre carregar.
E então me
perguntei: o que assusta mais? A leoa defendendo seu território ou a sociedade
defendendo seu direito de não sentir nada?
Há algo
profundamente errado quando o instinto do animal é mais compreensível que o
julgamento dos humanos. E não se trata de defender o que ele fez. Não é sobre
justificar ou romantizar. É sobre compreender. E compreender não é absolver — é
não se omitir diante das causas.
E as causas
estavam todas lá, visíveis, flagrantes, escancaradas: o diagnóstico de
esquizofrenia não tratado, a deficiência intelectual que exigia acompanhamento
constante, a infância interrompida, a família desamparada, as passagens pela
polícia que eram apenas a superfície de um ciclo que nunca foi interrompido.
Ele escalou o muro porque não tinha chão. E quem cresce sem chão, cedo ou
tarde, tenta encontrar altura em algum lugar — mesmo que seja a altura que o
destrói.
Mas o país
não tem paciência para contextos. Ele prefere atalhos. E naquele domingo enquanto a tarde caía lenta, eu percebi que as
pessoas queriam a explicação mais curta possível: “entrou porque quis”. “Sofreu
as consequências”. “Fim.”
Fim. Essa
palavra sempre me inquieta quando usada assim, como se a vida fosse um carimbo.
Se há algo
que aprendi observando as dores alheias é que as histórias nunca terminam onde
a tragédia acontece. A tragédia é o último parágrafo, não o livro. Mas o país
está cansado, é o que dizem. Cansado de violência, de injustiça, de falta de
segurança. E nesse cansaço, encontrou uma forma ainda mais perigosa de se
proteger: desumanizar.
Talvez
porque, quando a gente desumaniza o outro, fica mais fácil não olhar para o que
somos. Fica mais fácil não admitir que falhamos como sociedade, como governo,
como comunidade, como cidadãos. Fica mais fácil fingir que não temos nada a ver
com isso.
Mas temos. E
muito.
Porque a
morte daquele menino — que tinha nome, apelido, história e sonho — não é só
dele. Ela é um retrato, quase um raio-X, de um país que só enxerga o indivíduo
no momento do erro, nunca no momento da necessidade. Um país que chega sempre
tarde. Um país que prefere punir do que prevenir. Que fala muito em
responsabilidade, mas pouquíssimo em cuidado.
E talvez
seja esse o ponto central: o cuidado. Uma palavra que se tornou rara, quase
exótica. Uma palavra que deveria atravessar todas as políticas públicas e todas
as relações humanas, mas virou adorno de discurso. Cuidado exige tempo, exige
política, exige investimento, exige compromisso. Exige que o Estado exista. E,
sobretudo, exige que nós existamos uns para os outros.
O menino não
teve isso. Não teve ninguém que segurasse sua história antes que ela
despencasse. E, ainda assim, sua tragédia não foi o que mais expôs nossa
falência coletiva. O que expôs mesmo foi a comemoração. A frieza. As risadas.
Os “bem feitos”. A facilidade com que muitos ignoraram que aquela morte tinha
origem num abandono longuíssimo — um abandono que não começa nas pessoas, mas
nas estruturas.
E é por isso
que aquela jaula não era só da leoa. Era nossa. Construída com cada ausência,
cada corte de verba, cada serviço sucateado, cada decisão política que não
inclui os mais frágeis, cada silêncio. A jaula sempre esteve aberta — para o
menino cair dentro e para a sociedade cair também, sem perceber.
No fim do
dia — naquele domingo que parecia qualquer outro — fiquei pensando que talvez a
pergunta certa não seja “por que ele entrou?”. Talvez seja: “por que nós
entramos juntos?”.
Entramos
quando aceitamos a indiferença.
Entramos
quando escolhemos o desprezo.
Entramos
quando deixamos de exigir políticas públicas que funcionem.
Entramos
quando decidimos sentir menos.
Entramos
quando permitimos que a crueldade se tornasse linguagem cotidiana.
A jaula
nunca foi cenário. Foi sintoma.
E enquanto
não encararmos o que há de feroz em nossa própria forma de olhar o outro,
seguiremos assim — acreditando que o perigo está do lado de lá da grade, quando
na verdade somos nós que estamos à beira de perder aquilo que nos ensinava a
ser gente: a capacidade de reconhecer a vida, mesmo quando ela chega machucada.
Porque no
fim, a jaula mais perigosa não é a que prende.
É a que
anestesia.
É a que faz
a gente esquecer que cada vida, mesmo a mais ferida, é sempre um pedido
silencioso de cuidado.
E o cuidado
— esse sim — é o único instinto que ainda poderia nos salvar.