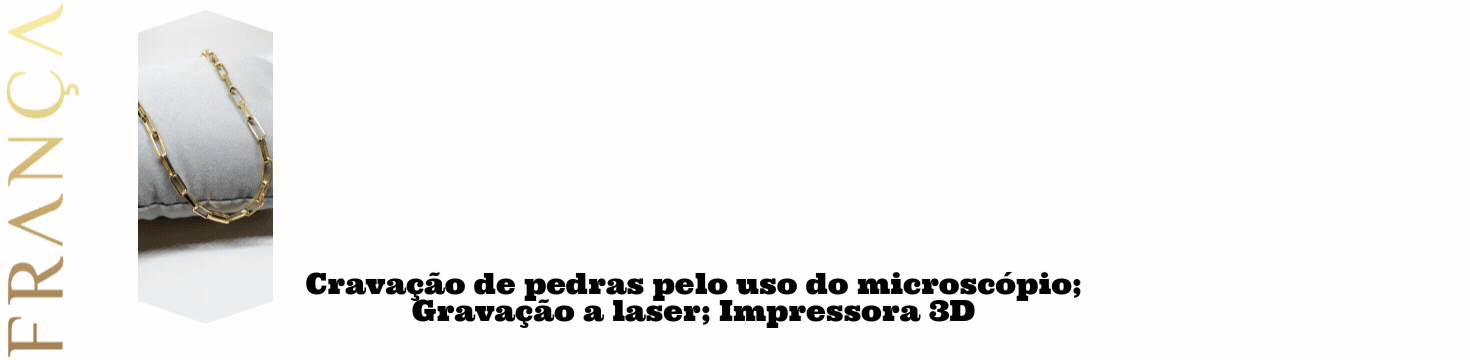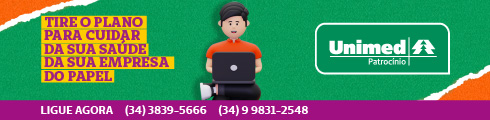Outro dia, num café rápido entre compromissos e ideias que não cabiam na pauta, um amigo me confidenciou algo curioso. Disse, com aquele ar de quem tenta disfarçar a perplexidade sob uma aparência serena, que havia feito um simples pedido dentro do ambiente de trabalho – uma demanda formal, institucional, necessária para o bom andamento das tarefas. No entanto, a reação da pessoa que recebeu o pedido foi de ressentimento. Levou para o lado pessoal, como se a demanda fosse um julgamento, uma crítica velada, um ataque travestido de alinhamento.
Terminamos o café entre silêncios e reflexões. Mais do que o episódio em si, o que me tocou foi o sintoma. Um pequeno gesto que revelou uma epidemia silenciosa: a confusão entre pessoa e função, entre o íntimo e o institucional, entre o eu e o papel.
Vivemos tempos em que a sensibilidade anda à flor da pele, mas não aquela sensibilidade generosa que escuta, acolhe e coopera — mas uma sensibilidade armada, desconfiada, prestes a se ofender por qualquer coisa que ouse soar como cobrança. Como se a simples responsabilidade se tornasse agressão.
O ambiente de trabalho deveria ser o espaço onde exercemos nossa capacidade de cooperação, raciocínio e contribuição coletiva. Mas quando o ego ultrapassa a borda do crachá, o que era uma equipe vira um campo minado de interpretações equivocadas, ressentimentos mal resolvidos e orgulhos inflados por vaidades miúdas.
Nietzsche disse que “o grau de civilização de uma sociedade se mede pelo modo como ela trata seus conflitos”. E talvez possamos aplicar isso também às empresas, aos setores públicos e privados, às pequenas repartições e aos grandes escritórios. A maturidade de uma equipe se mede por como ela lida com a crítica, a correção, a demanda.
Não se trata de frieza ou insensibilidade. Ao contrário. Trata-se de compreender que há um espaço onde devemos colocar nossas emoções em segundo plano para que a missão coletiva possa florescer. Ser profissional é, em parte, ter consciência de que ali não somos apenas indivíduos com histórias pessoais, mas peças de um organismo maior. E uma engrenagem, por mais valiosa que seja, não pode girar ao seu bel-prazer, senão trava a máquina inteira.
Há quem confunda isso com submissão. Mas não é. É compromisso. É ética. É senso de dever. É maturidade. Como escreveu Hannah Arendt, “a responsabilidade é o preço da liberdade”. E ser livre para trabalhar, para contribuir, para crescer dentro de uma instituição exige responsabilidade emocional. Exige a coragem de não se ofender com o que é apenas necessário.
O grande problema é que o mundo anda tão acostumado com elogios e validações que qualquer ajuste parece ataque. É como se muitos tivessem desaprendido a arte de escutar sem se defender. De acolher sem resistir. De reconhecer uma oportunidade de melhoria sem sentir-se diminuído por isso.
E, assim, a profissionalidade vai sendo corroída por vaidades disfarçadas de sensibilidade.
Não raro, vejo empresas afundarem em conflitos, não por falta de competência técnica, mas por excesso de fragilidade emocional. Por colaboradores que não sabem dizer "não sei", gestores que não conseguem ouvir uma sugestão sem interpretar como ameaça, setores que não conversam entre si por conta de desavenças que começaram com um simples e-mail mal interpretado.
E isso não é apenas um problema funcional. É uma questão filosófica. O trabalho, para além de sua função produtiva, é também um campo onde exercitamos quem somos e quem estamos nos tornando. Se não somos capazes de viver o trabalho com clareza, respeito e responsabilidade, que tipo de sociedade estamos ajudando a construir?
"Somos responsáveis por aquilo que cativamos", escreveu Saint-Exupéry. No trabalho, cativamos expectativas, tarefas, colegas e compromissos. E nossa responsabilidade não está apenas em cumprir horários e metas, mas em manter o ambiente saudável para que todos possam florescer ali. Um ambiente onde seja possível errar sem humilhação, corrigir sem medo, propor sem receio de ser mal interpretado.
A pessoalidade mal colocada no ambiente de trabalho é como uma erva daninha que cresce entre as raízes da produtividade. Enfraquece vínculos, paralisa ações, gera ressentimento e insegurança. E o pior: transforma a cultura organizacional num jogo de egos, onde vence quem fala mais alto ou se ofende primeiro.
Foi pensando em tudo isso que, ao voltar daquele café com meu amigo, resolvi escrever estas linhas. Porque talvez seja hora de revisitarmos o sentido do que é ser profissional. Não como um título, mas como um comportamento. Como uma escolha ética. Como uma forma de existir em comunidade.
É possível, sim, ser gentil e firme. É possível ser sensível sem ser suscetível. É possível discordar sem ferir, corrigir sem humilhar, liderar sem esmagar. Mas isso exige autoconhecimento, humildade e um certo desapego do próprio umbigo. Porque, no fundo, o verdadeiro profissional é aquele que entende que o mundo não gira ao seu redor — e mesmo assim, decide dar o seu melhor.
E, talvez, seja isso que devêssemos cativar nos ambientes de trabalho: menos melindres e mais maturidade, menos egos e mais entrega, menos ruídos e mais escuta.
O trabalho, afinal, não é sobre nós. É sobre o que conseguimos fazer juntos.
Confira Também
-
![]() 31/03/2025CIDADES CHAMADAS DE CONFUSÃO, GUARATINGA, CEMITÉRIO, UBERABINHA...Confira a coluna do Eustáquio Amaral na última edição da Gazeta: 4.285
31/03/2025CIDADES CHAMADAS DE CONFUSÃO, GUARATINGA, CEMITÉRIO, UBERABINHA...Confira a coluna do Eustáquio Amaral na última edição da Gazeta: 4.285 -
![]() 01/04/2025ATENDIMENTOConfira a coluna do Brígida Borges na última edição da Gazeta: 4.285
01/04/2025ATENDIMENTOConfira a coluna do Brígida Borges na última edição da Gazeta: 4.285 -
![]() 03/04/2025Farmácia Nacional: Uma história de progressoConfira a coluna do Luiz Alberto na última edição da Gazeta: 4.285
03/04/2025Farmácia Nacional: Uma história de progressoConfira a coluna do Luiz Alberto na última edição da Gazeta: 4.285