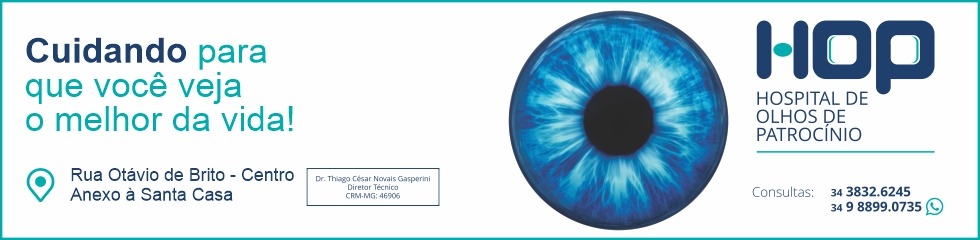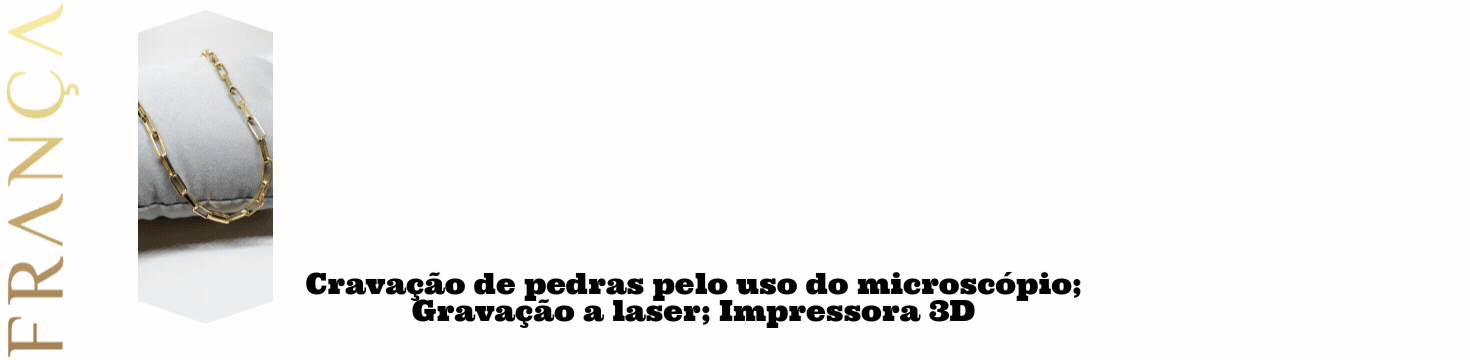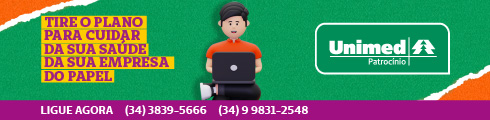Naquela tarde de sábado que parecia ter sido cuidadosamente desenhada para quem ainda acredita que os olhos podem ser curados pela paisagem. A cidade, lá embaixo, com ruídos abafados por sua própria pressa. Lá em cima, tudo respirava mais devagar. Era como se a Serra do Cruzeiro, com suas encostas onduladas e verdes, me convidasse não apenas a caminhar, mas a reparar — verbo raro nos tempos de agora.
A trilha não era gentil, mas tampouco hostil. Era honesta. Com seus recortes estreitos, seu silêncio interrompido apenas pelo zumbido da vida miúda que habita o mato, e pelas pedras — sempre elas — espalhadas com um rigor que me fez lembrar de um verso, desses que, uma vez lidos, passam a viver em nós. Sim, aquela pedra no meio do caminho retornou ao meu pensamento, não como símbolo de tropeço, mas como parte essencial da travessia.
Cada desnível que se revelava no solo era um convite à atenção, ao corpo presente. Não há espaço para distrações quando o chão se eleva ou afunda com imprevisível liberdade. Mas foi no meio dessa paisagem irregular, entre uma curva e outra, que algo dentro de mim se ajeitou. Uma lucidez mansa, quase imperceptível, que só quem caminha longe dos ruídos consegue captar: a natureza não tem urgência, e mesmo assim cumpre seus ciclos com precisão.
A vegetação parecia brotar de dentro da terra com alguma música que meus ouvidos não alcançavam. Os tons de verde não se repetiam — cada folha, cada capim, cada galho oferecia uma variação particular de cor, textura e forma. A trilha seguia como uma linha de costura entre morros, e em certo ponto, ao olhar para trás, percebi que não era mais o mesmo. Algo em mim havia sido deslocado — talvez o cansaço do olhar que só enxerga telas, talvez a rigidez de uma rotina que pouco se curva às delicadezas do mundo.
Foi então que compreendi melhor o que sempre me fascinou no poema de Drummond. Não era apenas a pedra, mas a permanência dela na memória. A consciência de que há certos instantes, certos encontros — com pessoas, palavras ou paisagens — que se incrustam na vida como um detalhe impossível de esquecer. A pedra, ali, pode ser um evento. Mas também pode ser o próprio chão ganhando voz, nos dizendo: olhe bem, você está vivo.
E eu estava.
Caminhar por essa serra é experimentar uma forma de diálogo que dispensa linguagem. As montanhas não nos falam como os livros, mas têm um modo muito próprio de ensinar. Falam com o corpo que se curva para subir, com o suor que escorre sem vergonha, com a pausa que se impõe diante da vastidão. É como se, ali, estivéssemos autorizados a sentir sem precisar justificar. E isso, para mim, é um tipo raro de liberdade.
A beleza daquele lugar não gritava. Ela se insinuava com a paciência das coisas que sabem que não precisam disputar atenção. E talvez por isso mesmo seja tão difícil descrevê-la sem cair nas armadilhas do adjetivo excessivo. Não era deslumbrante, era mais sutil: uma espécie de encanto que se instala devagar, como o entardecer que vai tingindo o céu sem que percebamos. Um encantamento que não explode, mas que fica — feito uma pedra, sim, mas uma pedra de outra ordem: aquelas que sustentam pontes.
Voltei a pensar nas retinas. Na exaustão de enxergar sempre as mesmas paisagens cinzentas, sempre os mesmos caminhos previsíveis. E como é surpreendente perceber que um percurso de terra, com pedras irregulares e capins dançando ao vento, pode renovar o olhar. Naquele dia, meus olhos estavam cansados, mas não conformados. E a trilha pareceu compreender esse cansaço. Devolveu-me, aos poucos, aquilo que a rotina havia me cobrado: o gosto do tempo esticado, da presença plena, da escuta sem pressa.
O corpo cansado ao final da caminhada não era o mesmo cansaço das semanas anteriores. Era um cansaço que não pedia cama, mas silêncio. Um cansaço que não pesava, mas sustentava. Porque há caminhadas que exaurem os músculos e revigoram a alma. E eu sei que isso soa quase paradoxal, mas talvez só seja compreensível para quem já subiu uma montanha sem a intenção de chegar ao topo, mas apenas de se perder um pouco de si para se encontrar inteiro de novo.
No alto de um trecho mais íngreme, sentei-me sobre uma pedra — e, pela primeira vez, entendi que aquele fragmento de Drummond poderia também ser lido com ternura. A pedra, enfim, não era inimiga. Era parte da paisagem e da memória. E minha memória, fatigada de abstrações, agradecia.
Fiquei ali por alguns minutos, escutando o vento atravessar o mato, sentindo o calor do sol filtrado pelas nuvens e deixando que o tempo escorresse sem meta. Quando decidi descer, percebi que levava comigo mais do que folhas secas no tênis. Levava um silêncio novo, uma calma inédita, e a certeza de que alguns caminhos, por mais íngremes que sejam, nos conduzem de volta a nós mesmos.
E
assim, aquela trilha, com suas curvas e pedras, tornou-se inapagável. Não por
ser difícil. Mas por ter sido bela — no exato sentido de que tudo o que nos
acorda por dentro merece ser lembrado.
Confira Também
-
![]() 21/07/2025PATROCÍNIO PRECISA MELHORAR O ÍNDICE DE MORTALIDADE INFANTILConfira a coluna escrita pelo Eustáquio Amaral
21/07/2025PATROCÍNIO PRECISA MELHORAR O ÍNDICE DE MORTALIDADE INFANTILConfira a coluna escrita pelo Eustáquio Amaral -
![]() 22/07/2025Dicas de Boas Maneiras para AnfitriõesConfira a coluna escrita por Brígida Borges
22/07/2025Dicas de Boas Maneiras para AnfitriõesConfira a coluna escrita por Brígida Borges -
![]() 23/07/2025Auxílio-Acidente para Chapa: o direito que muitos trabalhadores avulsos ainda desconhecemConfira a coluna escrita por Adrielli Cunha
23/07/2025Auxílio-Acidente para Chapa: o direito que muitos trabalhadores avulsos ainda desconhecemConfira a coluna escrita por Adrielli Cunha